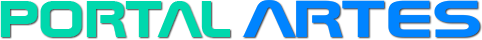Depois de quase vinte anos, voltei a Paris para rever a cidade e particularmente seus museus e coleções de arte. Não alimentava nenhuma expectativa especial a respeito do que iria ver, à exceção das pirâmides que, de uns anos para cá, ocupam a área fronteira ao Louvre. Não obstante, quando me vi percorrendo as salas daqueles museus e revendo obras de artistas que pertencem à história da arte do século XX e que a constituíram, dei-me conta de que aquele reencontro era mais que um reencontro: era uma espécie de reavaliação. E não porque eu me dispusesse a fazê-la e, sim, porque, agora, diante de meus olhos, aquelas obras nem sempre tinham o mesmo peso nem o mesmo significado de antes.
A primeira de minhas visitas foi ao Museu Picasso, no Marais. Ali, anos atrás, eu me havia defrontado, pela primeira vez, com um número considerável de obras do grande pintor. Alguns quadros e esculturas tinham deixado impressão duradoura na minha lembrança, como a Crucifixion (1930) e a célebre escultura da cabra, feita da junção dos mais diversos materiais e objetos, como folhas de palmeira, cabaça, cano e cipós. Ao entrar, assaltou-me o temor de uma possível decepção ou a ausência de qualquer descoberta ou surpresa. Não foi o que aconteceu e não porque a coleção tivesse sido aumentada ou enriquecida. As pinturas, as collages e ensemblages, como as esculturas eram exatamente as mesmas que eu vira antes. A surpresa – se posso falar assim – veio simplesmente da poderosa força expressiva que continua viva naquelas obras, do que há de inesgotável na expressão verdadeiramente criadora, fundadora de uma realidade outra – a da arte. A “releitura” de uma obra, nestas circunstâncias, quando o impacto da visão primeira já foi absorvido, permite a percepção do que é verdadeiramente essencial na obra e que está menos na contundência das formas e da composição do que na tessitura da matéria pictórica, na expressividade da linha, nos ecos das cores, do diálogo de luz e sombra, etc. Em Picasso, a percepção de tais qualidades torna-se mais difícil, devido à dramática deformação a que as figuras são submetidas.
Mas a reavaliação foi maior no meu reencontro com o acervo do Centro Pompidour, onde se encontram obras altamente representativas dos artistas mais marcantes do século 20. Logo no grande hall de entrada deparo-me com uma das “máquinas-esculturas” de Jean Tinguely, artista que surgiu na década de 60, construindo pequenos quadros com formas em movimento, a que nunca dei maior importância. A obra do Centro Pompidour, no entanto, é de grandes proporções, ocupando toda a parede de fundo da sala. Trata-se de um conjunto de formas negras circulares de diversos tamanhos e que, apertando-se o botão ao lado, passam a mover-se lenta e harmoniosamente, com uma variação de ritmos – já que as formas têm tamanhos variados – que provocam a sensação de ouvirmos, com os olhos, uma sinfonia do silêncio. No extremo direito da grande “máquina”, percebe-se a figura de uma pequena folha feita de metal, que mal se move. O nome da obra é Réquiem pour une feuille morte. Feliz junção do movimento mecânico e da poesia.
No segundo piso, deparei-me com as obras de um velho conhecido: Antoine Pevsner. Nos anos 50, descobri-o em algumas publicações da época e falei dele com alguns de meus amigos, que comigo formavam o grupo Neoconcreto, especialmente Lygia Clark, que se entusiasmou por ele. Pevsner, fundador, juntamente com seu irmão Naum Gabo, do Construtivismo russo, construía suas estruturas abstratas em metal, soldando fio por fio, até formar superfícies curvas que se embricavam e desdobravam, criando por assim dizer uma nova linguagem escultórica. Os Bichos, de Lygia, absorvem certa influência dessa linguagem inovadora. Ao rever suas obras, emocionei-me: elas estão vivas, jovens, como se tivessem sido criadas hoje. São experiências como esta que reafirmam, em mim, a certeza de que a verdadeira criação artística, efetivamente inovadora, mantém-se para além do instante em que surgiu. A arte é sempre atual, já dissera mestre Picasso.
Já o mesmo não aconteceu com a obra de Jean Fautrier que revi no Museu de Arte Moderna de Paris: aquele pequeno quadro, que nos mostra uma pasta quase sem cor, esgarçada na tela pela espátula, pareceu-nos vazio de significado. Na época em que foi feito, aquele gesto tinha sentido, era como a tentativa de fazer ainda falar a pintura, quando se tornara apenas matéria informe: a crise extrema da pintura figurativa. Com essa crise defrontara-se, na época, o brasileiro Iberê Camargo, mas, com extraordinária energia conseguira retornar do caos, recuperar a voz da pintura. Frautrier era menor.
Neste mesmo museu, vi confirmar-se o vazio que foi a chamada arte povera italiana, ali representada por uma obra que ocupa uma pequena sala redonda, alusão a uma capela e que, hoje, mais que ontem, mostra-se vazia de qualquer significação ou emoção. Perguntei-me até quando o museu manteria ali aquela suposta obra que só vale como vestígio de um momento (pobre) da arte italiana dos anos 60.
Mas esta é, pelo menos, uma obra silenciosa, que não incomoda. Bem pior estava por vir. Ao entrar numa sala do andar de cima, comecei a ouvir um berreiro que, como verifiquei em seguida, vinha de um monitor de televisão: a imagem da cara de um sujeito, com expressão exasperada, ia e vinha, do fundo para o primeiro plano da tela, berrando, como um louco. Nada mais que isto. Ao lado, no outro monitor, o mesmo artista performático dava cambalhotas no ar, repetidamente. Uma garota que estava ao meu lado riu, balançou a cabeça e disse: “Por que não o internam?” Pensei comigo: pode ser que, com sua exasperação, ele pretenda expressar a impotência do indivíduo na sociedade massificada. Mas nem toda expressão é arte, e essa seguramente não é.
Menos barulhento, numa outra sala, um artista conceitual expunha suas obras. Uma delas era uma série de cem pequenas fotos, coladas umas nas outras, e que começava com o retrato de um bebê, seguido da foto de um menino de um ano, e assim progressivamente até concluir com o retrato de um homem aos cem anos de idade... Tudo bem, disse a mim mesmo, encolhendo os ombros. E daí?