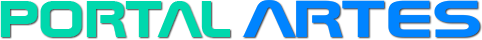Como Guignard se transformou no campeão da Sibéria, um lugar onde estão mais de mil pinturas falsas dos maiores artistas brasileiros
Situado na entrada do Shopping Cidade Copacabana, no bairro carioca de mesmo nome, o Sniff Lanches é um boteco como outros tantos. Paredes cobertas de ladrilhos brancos, garrafas de pinga, sacos de laranja nas prateleiras e um televisor sempre pronto a oferecer aos clientes doses de Sessão da Tarde ou de Vale a Pena Ver de Novo. Entre as seis da manhã e a meia noite, o Sniff vende muito café de coador, rabos-de-galo, coxinhas de frango e, a especialidade da casa, um enrolado de queijo e presunto chamado “joelho”. Com sorte, ali também se pode comprar um quadro com a assinatura de um grande mestre da arte brasileira.
Sujeito grandalhão de pele escura, camiseta regata empapada pelo calor de janeiro, S. tira de dentro de uma sacola amarfanhada um embrulho retangular pardo. Descasca as fitas adesivas do papel que envolve o objeto e, de pronto, salta aos olhos um jarro de flores, pintado em um painel de madeira. Copos de leite, folhagens verdes e flores vermelhas semelhantes a cravos se debruçam para fora de um vaso marrom.
Flores e jarro se equilibram sobre uma toalhinha listrada, disposta de modo desajeitado sobre a mesa madrepérola. Ao fundo, casebres, coqueiros e igrejinhas coloniais fazem frente a montanhas escarpadas e etéreas, tudo disposto numa peça de madeira de 27 x 43 centímetros. No canto inferior direito, e também no verso, a assinatura “Guignard”.
Em junho de 1999, um vaso de flores assinado no canto inferior direito por Guignard foi vendido por 759 mil dólares para o empresário Ronaldo Cezar Coelho, na casa de leilões Christie’s, em Nova York. O valor, reconhecido publicamente como o maior já atingido por uma tela de Guignard, e como um dos mais altos desembolsados por uma obra de arte brasileira, ainda seria suplantado pouco depois por duas compras feitas longe dos holofotes das casas de leilão (e da imprensa). Outro vaso pintado pelo artista foi vendido por 900 mil dólares para o empreiteiro José Celso Gontijo, de Brasília. Meses depois, um banqueiro carioca desembolsaria 1,2 milhão de dólares por mais um ramalhete de flores de Guignard.
O sujeito do Sniff Lanches não teve a mesma sorte. Apoiando o quadro entre os dois antebraços, como se ninasse uma criança pequena, ele assegura que até teria um bom cliente para a obra. Mas o marchand que encomendara o Guignard lhe dera um calote. S. estava precisando de dinheiro. Qualquer dinheiro, e para já.
Encontrou um par de amigos tomando cerveja no boteco e pediu ajuda. Um dos colegas pescou nos bolsos duas notas, uma de 50 e a outra de 10 reais. E assim, um vaso de flores de “Guignard” foi negociado ali no Sniff por 60 pratas.
As flores vendidas por S., verdade seja dita, têm peculiaridades em relação aos três buquês milionários. O perfume, por exemplo. Alberto da Veiga Guignard, pintor nascido em 1896, em Nova Friburgo, cidade serrana do Rio, morreu em 1962. Embora a pintura nas mãos do homenzarrão esteja com a data de 1961, e o painel de madeira tenha marcas de cupins, condizentes com suas alegadas quatro décadas e meia de vida, suas flores cheiram a tinta fresca. Basta colocar o dedo para comprovar. Não se trata de manifestação paranormal. Como S. mesmo admite, foi ele quem produziu, poucos dias antes, no seu ateliê, a pintura assinada “Guignard”.
Embora nem sempre venda seus trabalhos por quantias ínfimas, S. não costuma cobrar mais do que 600 reais por eles. Em geral, seus clientes não são velhos amigos de boteco, mas antiquários e galeristas escroques, que, em busca de algum incauto endinheirado, põem as pinturas à venda por valores na casa dos 100 mil reais. O trabalho de S. é desvalorizado por conta da existência de um exército industrial de reserva. Ele não é o único “Guignard” na praça. Não é sequer o único daquele quarteirão.
Até recentemente, no 3° andar de um apartamento próximo ao Sniff, o veterano artista H. produzia com regularidade e destreza clones das “paisagens imaginantes” ou “paisagens imaginárias”, como ficaram conhecidas as obras de Guignard com cenários oníricos cheios de montanhas, igrejinhas e balões de São João. H. escolheu um lugar pouco bucólico para “imaginar” essas paisagens. Prático, deduziu que era mais fácil vender montanhas e igrejinhas nas redondezas de Copacabana do que em Ouro Preto.
Basta descer o elevador, caminhar 200 metros e entrar no Shopping Cidade Copacabana.
Um dos shoppings mais antigos do país, o centro comercial foi construído no início da década de 60, por iniciativa de Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor. Com 32 mil metros quadrados de área construída, e “uma exclusiva rampa elíptica, ao estilo do Guggenheim de Nova York”, como apregoa sem modéstia o site do shopping, o Cidade Copacabana tem cerca de 300 lojas, quinze andares com mais de 600 apartamentos residenciais, além de um supermercado 24 horas, um posto do Tribunal de Justiça, bibocas de equipamentos elétricos e um número cada vez maior de lan houses. Ecumênico, o shopping abriga sob o mesmo teto um templo evangélico, da Igreja Universal do Reino de Deus, um templo católico, a Paróquia Santa Cruz de Copacabana, e um templo da prostituição, o L’uomo Club, cujo nome de batismo era Termas L’uomo.
As dezenas de galerias de arte, oficinas de restauração, moldureiros, lojas de decoração, de artesanato e de obras de arte fazem com que o mastodonte cor creme, localizado entre as ruas Siqueira Campos e Figueiredo de Magalhães, seja conhecido pelo apelido de Shopping dos Antiquários. Existem outras alcunhas menos airosas. Nos últimos meses, em conversas com cerca de quarenta profissionais do mercado das artes plásticas, foram ouvidos termos como “covil”, “ninho das cobras”, “antro dos falsos” e “Caverna do Ali Babá”, para descrever o local.
Apesar de muitos ressalvarem que ali também existem galerias e antiquários idôneos, vários entrevistados classificam o Cidade Copacabana como o maior entreposto de obras falsas do país. Não é muito difícil ver por ali coisas suspeitas. Na mesma vitrine, uma escultura em mármore atribuída ao valorizado Bruno Giorgi faz companhia a um enorme boneco de pelúcia da Pantera Cor-de-Rosa vestida com um sobretudo bege de detetive. Apesar das bizarrices, o shopping convive com um robusto entra-e-sai de clientes. Gente arrumada, ou excessivamente arrumada, sai das lojas com embrulhos pardos retangulares sob os braços. Sem saber, cruzam na saída com alguns dos famosos artistas mortos de quem compraram pinturas.
Pelas rampas elípticas do shopping circulam os “guignardianos” H. e S., o baixinho G., que pinta muitas das onipresentes telas assinadas “Heitor dos Prazeres”, ou B., que chegou a sustentar simultaneamente quatro mulheres, encarnando Manabu Mabe. Por ali também anda um simpático senhor que, dentro da garagem do próprio shopping, produz desenhos e aquarelas de diversos artistas, e o experiente Benjamin Silva, que, mesmo com uma sólida carreira construída em cima de pinturas assinadas com seu próprio nome, se tornou um dos únicos artistas brasileiros a ser detido por falsificação de obras de arte.
Silva não fala no assunto. O comissário Claudio Menezes, que participou da operação, sim. Hoje lotado na 9ª DEAC, no pouco amistoso bairro carioca de Brás de Pina, ele rememora o episódio, ocorrido em 1999.
Em entrevista por telefone, feita por celular em meio a uma troca de tiros, com ruídos de balas e gritos de “abaixa” e “cuidado, porra”, o delegado usou jargões e referências eruditas para descrever o momento em que entrou na casa-ateliê onde o artista ainda vive e pinta, perto do Shopping dos Antiquários. “Ali tinha telas de Di Cavalcanti, tinha Dalí, tinha aquele que morreu há alguns anos. Era Cícero? [O modernista Cícero Dias.] Além disso, tinha uma fábrica de Pancetti.”
Um conhecido de Silva conta que, ao visitar pela primeira vez a casa do pintor, não se conteve diante do fantástico acervo do artista, que ia de Fernando Botero a Jackson Pollock, de Portinari a Picasso. “Silva, a sua coleção vale pelo menos 2 bilhões de dólares”, ironizou.
Convocado judicialmente para periciar as obras apreendidas com Benjamin Silva, Edson Motta, filho e homônimo do pioneiro da restauração no país, diz não ter tido muito trabalho. Algumas obras com a assinatura Pancetti ainda tinham a tinta fresca, tão fresca quanto algumas flores de “Guignard” que podem ser colhidas em botecos de Copacabana.
Além de serem favoritos dos falsificadores, Guignard e Pancetti dividem também uma primazia: ao lado de Di Cavalcanti e de Portinari, eles foram os primeiros artistas modernos brasileiros a sofrer falsificações profissionais. E ambos experimentaram a sensação de serem plagiados ainda em vida.
Poucos artistas brasileiros antes deles passaram por essa consagração, como expressou Olavo Bilac, referindo-se ao pintor de marinhas Giovanni Castagneto (1851–1900). “Castagneto acaba de ter uma radiante consagração. Ninguém falsificou ainda a areia da praia, que se obtém de graça; e ainda não há mulher moça que embranqueça os cabelos e encha de rugas a face para parecer velha, como ainda não há homem superior que esconda a inteligência para parecer estúpido; mas se algum dia a areia da praia, a velhice e a estupidez tiverem cotação no mercado, a areia monazítica far-se-á areia comum, a adolescência disfarçar-se-á em caduquice, e o gênio desandará a zurrar... Por ora, o que se falsifica é o que é bom, e o que vale dinheiro.”
No caso de Guignard, uma pequena notícia, publicada em 6 de dezembro de 1959 no jornal Última Hora, informa que o artista havia detectado uma fraude, “ao vivo”, numa exposição de suas obras. “O próprio Guignard chama a atenção dos visitantes, dizendo que o quadro não é absolutamente de sua autoria. É falso.” Segundo o jornal, tratava-se de “uma paisagem pertencente ao jornalista Roberto Marinho”. Meses depois, ironicamente, o jornalista se tornaria acionista de um novo empreendimento de Arnon de Mello: o Shopping Cidade Copacabana.
Se em 1959 um falso Guignard era novidade, sete anos depois, com o artista morto, eles desabrochavam feito marias-sem-vergonha. Só em 1966 foram publicados em jornais do Rio, Belo Horizonte e São Paulo pelo menos cinqüenta textos sobre possíveis fraudes de suas obras. Um deles, veiculado no carioca Correio da Manhã, de 22 de junho, foi assinado por Carlos Drummond de Andrade. Na crônica “Guignard na parede”, que menciona a existência de “uns cinqüenta quadros falsos de Guignard por aí”, o poeta especula sobre a possibilidade de que alunos do artista tenham pintado obras sob o nome do mestre.
Paulo Kuczynski, um dos principais marchands brasileiros, explica porque nos últimos anos o pintor se consolidou como o artista mais falsificado do país. “Em primeiro lugar, é muito difícil detectar seus falsos porque, de 1935 até sua morte, ele sempre produziu uma mescla de obras excelentes e outras fracas. Não é como a maior parte dos artistas, que teve só uma ou duas fases boas.” Além disso, “a documentação de sua obra é falha, principalmente porque não existe uma instituição que cuide dela pra valer”. E referindo-se à questão levantada pela crônica drummondiana, esclarece: “Ele teve um número grande de alunos que aprenderam muito bem a imitá-lo”.
Guignard teve sólida formação acadêmica. Estudou pintura em Munique e em Florença. A carreira de mestre decolaria com a ajuda de Juscelino Kubitschek, então jovem prefeito de Belo Horizonte, que o convidou a dar aulas em Minas Gerais. Guignard chegou a ter oitenta alunos ao mesmo tempo, entre eles artistas como Iberê Camargo e Amílcar de Castro.
Há décadas o mercado especula se Guignard teria assinado, ou pintado, telas de seus alunos. A julgar pelo depoimento de uma de suas pupilas mais fiéis, a resposta é afirmativa. “Eu mesma tenho um quadro meu assinado por ele”, diz Yara Tupynambá, que ao longo de dez anos manteve convivência estreita com o mestre fluminense.“Não era por sacanagem. Ele nos ensinava tão bem que às vezes fazíamos pinturas muito parecidas com as dele. Quando ele via os quadros ainda sem assinatura se confundia e tascava o nome dele.”
Conhecedora das idiossincrasias pictóricas do mestre, durante anos ela fez expertises para galerias, museus ou colecionadores interessados em avaliar quão Guignard eram seus Guignards. “Aí comecei a receber muita coisa falsa, muita coisa falsa mesmo. E ameaças. Um dia recebi duas pinturas idênticas, vindas de estados diferentes. Desisti.”
Quando diz “muita coisa falsa mesmo”, Yara Tupynambá não está carregando nas tintas. Um dos protagonistas do alto mercado de artes plásticas no Brasil, Jones Bergamin, diretor da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, só confirma a hipérbole. Responsável há décadas pelos principais leilões de arte brasileira, a instituição criada em 1970 já comercializou duas dezenas de pinturas por mais de 500 mil reais, cada uma, e mais de uma centena de peças acima dos 100 mil reais. Em setembro de 2004, o escritório vendeu o Casamento na Roça, de Portinari, por 1,4 milhão de reais. Não é de se estranhar, portanto, que muita gente queira vender obras nos leilões da Bolsa, inclusive os falsários.
“Todos os dias tentam me vender pelo menos uns quatro ou cinco falsos”, afirma Bergamin, sobre cuja mesa, em Ipanema, repousa sempre uma grande lupa. “O dia nem terminou e só hoje já me trouxeram dois Volpis e um Antonio Bandeira falsos.”
De uns dez anos para cá, Peninha, como Bergamin é conhecido, vem catalogando sistematicamente as obras fraudulentas que lhe são apresentadas cotidianamente. De 1997, quando comprou sua primeira câmera digital, até dezembro último, fotografou mais de mil obras falsas que passaram pelo escritório. Em seu computador, a pasta com as imagens dos fakes ganhou o nome de Sibéria. “Guignard é o campeão absoluto da Sibéria”, afirma Bergamin. No gulag eletrônico, também vivem muitos Di Cavalcantis, Djaniras e Pancettis.
Peninha classifica a profissionalização dos falsários da arte brasileira como “impressionante”. “Existem verdadeiras organizações criminosas com um grau cada vez maior de sofisticação. Cada quadrilha é especializada em um ou alguns artistas. Algumas eu conheço há anos. Tem um falsário de Cícero Dias, por exemplo, de quem já vi dezenas de obras.”
Os motivos dessa máfia artística são, segundo ele, variados. Por um lado, o mercado brasileiro vem crescendo, e embora ainda seja nanico em comparação aos países desenvolvidos, movimenta oficialmente mais de 100 milhões de reais por ano (a estimativa dele é de que os falsos movimentem outros 10 milhões de reais). Por outro lado, a legislação brasileira e os mecanismos legais de combate à pirataria artística são pífios. “Eu posso estar pintando um Di Cavalcanti quando a polícia invadir a minha casa.
Se eu não for flagrado no exato momento em que estiver assinando ‘Di Cavalcanti’, e se não houver provas de que fazia isso para fins comerciais, eu alegaria que estava apenas exercitando meus dons artísticos, e nada me aconteceria.”
De fato, não existe no país uma legislação específica sobre falsificação de obras de arte. Elas estão sob a égide da lei nº 9610/1998, a mesma que regulamenta fraudes relacionadas a desenhos animados, cartas geográficas, sermões e projetos de paisagismo. Por sua vez, até recentemente, a repressão aos falsos era, em âmbito federal, atribuição da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico. Esse segmento da Polícia Federal ainda mistura a proteção de micos-leões com o controle de tráfico internacional de alguns tipos de peças artísticas considerados por ela patrimônio histórico, quase sempre arte sacra. O combate ao comércio interno de artes plásticas, porém, acaba nas mãos das polícias estaduais. No Rio, a tarefa pertence, desde 2003, à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, o mesmo braço da Polícia Civil que cuida de falsificação de bebidas, brinquedos, roupas e DVDs de Tropa de Elite. O delegado titular da chamada DRCPIM,Ângelo Ribeiro de Almeida Júnior, diz que não se recorda de nenhuma ação de combate a fraudes de obras de arte. “Em geral trabalhamos a partir de denúncias.
Não me lembro de termos tido nenhuma relacionada à arte.”
O delegado não tem problemas de memória. São raras as denúncias e ainda mais escassas as operações policiais para coibir a prática da falsificação. O episódio mais estrepitoso das últimas décadas aconteceu no início de 1995. A Polícia Civil carioca recebeu denúncia de que a Galeria Irlandini, em Ipanema, estava exibindo duas obras falsas de Portinari. O rastilho levou a mais de 400 telas pertencentes a Giuseppe Irlandini, marchand, restaurador e pintor italiano, que já atuava há décadas no Brasil. “O depósito dele era um Louvre”, relembra Luís Guilherme Vieira, advogado criminalista e consultor do Projeto Portinari.
A pinacoteca de Irlandini tinha obras atribuídas a pintores como Picasso, Chagall e Miró. “Só do Guignard ele tinha doze telas”, relembra Jones Bergamin, que acompanhou a operação. Irlandini morreu dois anos depois, sem sofrer nenhuma pena. “Este caso é típico da impunidade dos falsificadores. A Justiça inclusive devolveu para a família de Irlandini as obras comprovadamente falsas. Isso é um absurdo, porque as pinturas falsas continuam rodando indefinidamente: se alguém não é enganado aqui, outro logo adiante se encarrega disso”, diz Bergamin.
Numa pequena sala no 2° andar de um prédio de tijolos aparentes no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, existe um Matisse. Na tela, uma mulher dedilha com mãos disformes um violão igualmente desproporcional. A tela faz parte da coleção do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG, mais conhecido por Cecor, instituição criada em 1980 e que, em março próximo, inaugura o primeiro curso de graduação em restauração e conservação do país.
O tal Matisse não tem importância para a história da arte. Quem o pintou sabe bem pouco de pintura (e menos ainda de Matisse). Em compensação, a tela alaranjada acabou desempenhando um papel importante no combate à falsificação brasileira.
A pintura esteve no lote de 28 obras submetidas em 1995 ao químico Luiz Antonio Cruz Souza, um dos convocados para fazer perícias no acervo de Irlandini. Após analisar as obras atribuídas a artistas tão diferentes quanto o italiano Umberto Boccioni, o francês Maurice de Vlaminck e Di Cavalcanti, o pesquisador mineiro teve uma surpresa. Antes de começar a pintar, todo artista faz a chamada preparação, o procedimento que deixa a superfície da tela pronta para receber as camadas de pigmentos.
Cada um tem sua técnica. As 28 obras analisadas por Souza haviam sido preparadas com os mesmíssimos produtos: caulim, branco de titânio, carbonato de cálcio e PVA.
“Se aquelas obras fossem verdadeiras, a gente estaria diante de uma globalização sem precedentes nas artes: todos os artistas, de origens e estilos tão diferentes, teriam comprado material na mesma loja”, diverte-se.
As telas fraudulentas foram devolvidas pouco depois, mas o falso Matisse ficou na sede do Cecor, como uma espécie de talismã. Foi a partir dessa experiência que Luiz Souza e uma pequena equipe reunida por ele começaram a desenvolver o projeto mais completo do país para analisar a autenticidade de obras de arte. Para que uma pintura consiga do Cecor um atestado de idoneidade artística, ela precisa passar pelo faro de quatro especialistas diferentes: um conservador-restaurador, que analisa o estado de conservação da obra; um químico, que faz estudos analíticos dos materiais da pintura; um grafodocumentoscopista, que realiza perícia da assinatura do artista; e um historiador da arte, que faz o estudo estilístico-formal.
Antes de receberem os eventuais atestados de saúde ou óbito, as pinturas submetidas ao Cecor passam por uma extensa bateria de exames. São fotografadas com luz reversa, luz rasante, fluorescência de luz ultravioleta e radiografia. Os equipamentos são muitos, caros e enigmáticos: “cromatógrafo a gás líquido”, “espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier”. O trabalho é obsessivo e meticuloso. No relatório 0236P, por exemplo, no qual a equipe do Cecor se debruçou sobre a tela Noite de São João em Ouro Preto, só a análise de duas assinaturas “Guignard” estimulou o perito Maurício Brandão Ellis a produzir 32 páginas de considerações técnicas.
A conclusão, nesse caso, foi: “São falsos os dois espécimes de assinaturas ‘Guignard’ apostos na tela”.
A avaliação de uma tela leva meses para ficar pronta e custa, em média, 14 mil reais. O Cecor já fez 25 relatórios dessa espécie. Cinco das obras estudadas, entre elas o Guignard acima, foram consideradas piratas.
A edição de novembro do jornal de antiquários A Relíquia trazia em sua página 26 o anúncio de um escritório de arte com reprodução de uma pintura creditada a Alberto da Veiga Guignard. O telefone toca no FF Escritório de Arte, no Shopping dos Antiquários. Alguém se passando por comprador quer saber quanto custa o quadro. “Custa 1 milhão de reais”, diz a mulher do outro lado da linha. Assim como a pintura negociada em frente ao Sniff Lanches por 60 reais, esta obra com a assinatura Guignard é um vaso de flores pintado a óleo sobre madeira.
De posse de uma fotografia da obra, Marco Elizio de Paiva, mestre em história da arte pela Universidade do Texas, professor e ex-diretor da Escola de Belas Artes da UFMG e responsável pela parte estilística nos laudos do Cecor, dá seu veredicto: “Estou ficando cada vez mais expert em detectar falsificações de Guignard. Este vaso de flores, apesar da reprodução fotográfica diminuta, revela a pobreza de recursos do falsário. O motivo está excessivamente plano e o conjunto mal respira. Guignard nunca pintaria assim”. Diante de outra imagem de uma pretensa Paisagem Imaginária, atualmente oferecida por 250 mil reais no site Pintura Brasileira (www. pinturabrasileira.com), ele escreve: “Esta bobagem é mais falsa que uma nota de 30 reais. Socorro! Este não é Guignard nem bêbado”.
Aos que acreditam que pinturas falsas estão condenadas apenas às coleções de alguns desavisados, o professor conta outro episódio. No ano passado, em viagem a São Paulo, ele visitou a Pinacoteca do Estado. Em uma das salas do museu, um dos melhores do país, viu a pintura de um Cristo. De longe, parecia ser um dos muitos Cristos pintados por Guignard, e assim a tela estava assinada. Quando se aproximou, porém, Marco Elizio não teve dúvidas. “Guignard teve um aluno em Minas chamado Petrônio Bax. De família holandesa, Bax havia aprendido, quando criança, que a Holanda ficava abaixo do nível do mar. Como pintor, ele decidiu que tudo também se passaria embaixo d’água. O quadro na Pinacoteca mostrava um Cristo todo cercado por peixinhos e algas, como muitos outros Cristos de Bax, conhecidos em Belo Horizonte.”
Alertada, a direção do museu estudou o caso e retirou a pintura da exposição.
Outros importantes museus brasileiros também já pisaram em falsos (por assim dizer). O Museu de Arte de São Paulo (Masp) tem obras questionáveis de Rembrandt e Van Gogh, além de um “Miró” que o próprio Miró renegou. No final de 2006, um livro com a obra completa do holandês Frans Post, organizado pelos pesquisadores Pedro e Bia Corrêa do Lago, concluiu que o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, mantinha em seu acervo um falso Post. A pesquisa relacionou 55 obras questionáveis ou rejeitadas, entre elas uma comprada por 1,5 milhão de dólares, pelo pernambucano Ricardo Brennand. A fraude, segundo Pedro Corrêa do Lago, envolve uma fundação suíça, controlada por um marchand americano.
Outro projeto de grande porte coordenado por Corrêa do Lago, desta vez em parceria com Julio Bandeira, um volume de 708 páginas com as obras completas de Jean-Baptiste Debret (1768–1848), publicado em dezembro passado, traz à tona 87 falsos ou duvidosos atribuídos ao artista francês. Entre eles, chama a atenção um conjunto de 42 falsificações na importante coleção dos museus Castro Maya, do Rio. Um “Debret” do acervo do Masp foi identificado no livro como obra do italiano Agostino Brunias, que tem melhores cotações no mercado internacional do que o francês. “Certamente venderam a obra como Debret por ele ser, ao menos naquela época, mais palatável a um museu brasileiro”, afirma Corrêa do Lago.
Um dos maiores estudiosos americanos da falsificação de obras de arte, Sheldon Keck, dividia esquematicamente as fraudes pictóricas em quatro categorias. O caso Guignard-Bax seria um exemplo da falsificação que ele chamava de “palimpsesto”. Na Antiguidade, palimpsestos eram os papiros ou pergaminhos cujo texto original era raspado para que a superfície pudesse ser reaproveitada. Nos fakes dessa espécie, o falsário trabalha sobre uma pintura autêntica de um artista menos valorizado, para transformá-la na obra de alguém mais cobiçado no mercado. Em alguns casos, a operação pode ser trabalhosa (se um falsificador quisesse tirar os peixinhos do Cristo de Bax, por exemplo). Na maioria das vezes, esse tipo de fraude envolve só manipulação da assinatura. O restaurador Edson Motta relata um caso interessante de troca de rubricas.
Anita Malfatti tomou suas primeiras lições de pintura com sua mãe, a acadêmica Eleonora Elizabeth Krug Malfatti. E antes de chocar Monteiro Lobato e o resto do establishment artístico brasileiro com sua famosa exposição modernista de 1917, a artista chegou a pintar obras clássicas, linguagem que retomaria mais tarde. “Como a mãe assinava E. Malfatti, e ela assinava A. Malfatti, alguns falsários já fizeram fraudes trocando apenas uma letrinha no canto da tela de obras da mãe de Anita.”
Na internet, território cada vez mais usado por piratas, não é difícil laçar “palimpsestos”. Há meses o site Bureau Art Gallery (www.bureauartgallery. com) oferece, entre outras barganhas inimagináveis, uma pintura chamada Rest, ao lado da qual se lê “attributed to Segal” (erroneamente grafado com um “l” só). Apesar de a galeria virtual ter nome americanizado, trazer textos exclusivamente em inglês e cotar as obras em dólar, uma ferramenta da internet chamada Geek Tools, que permite identificar a origem do site, mostra que ele foi criado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A tal pintura atribuída a Segall também vem de São Paulo. “Eu já vi este quadro. É da Lucy.” A afirmação é de Marcelo Mattos Araújo, atual diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Durante vinte anos ele trabalhou no Museu Lasar Segall, onde começou como estagiário e chegou ao cargo de diretor. “O que aparecia de falso Segall lá era espantoso. Traziam coisas patéticas: de Segall cubista a Segall impressionista.” Não é o caso da tela à venda no Bureau Art Gallery. Ela foi pintada por Lucy Citti Ferreira, amiga íntima, modelo e aluna de Lasar Segall.
O segundo tipo de falsificações citado por Keck é a cópia de uma obra autêntica. Diante de alguma pintura, digamos a Mona Lisa, o artista produz uma réplica. Às vezes cola. Cinco Mona Lisas foram vendidas nos Estados Unidos apenas em 1935.
Às vezes, é o próprio artista que “falsifica” a si próprio. Um exemplo é o acadêmico Almeida Júnior (1850–99), um conhecido replicante de pinturas de sua própria autoria. Entre artistas vivos há também quem entre nesse curioso território da autopirataria. Amigos de Rubens Gerchman, um dos mais importantes artistas pop brasileiros, se divertem com o fato de ele ter voltado a (re)produzir suas obras da década de 60, seguindo o caminho já traçado por pintores como Vicente do Rego Monteiro (1899–1970) e Giorgio de Chirico (1888–1978).
O terceiro tipo de fraude artística na tipologia de Keck é o chamado pastiche. Nessas obras, de duas, uma; ou o farsante faz uma obra semelhante a uma de autor famoso, mudando apenas alguns detalhes, ou combina dois ou mais elementos característicos de um artista numa mesma obra. Se os dois temas principais de Guignard eram vasos de flores e paisagens imaginárias, o falsário reúne os dois motivos numa só tela: em primeiro plano, um belo buquê; ao fundo, bucólicas montanhinhas.
A última e mais difícil categoria das falsificações é criar uma obra original que não se baseia em nenhuma pintura específica, mas que emprega a linguagem do artista fraudado. É assim que trabalharam os grandes farsantes da história.
Se houvesse um Louvre dos falsificadores, o húngaro Elmyr de Hory (1906–1976) certamente ganharia uma sala especial. Ao menos em Vicente de Carvalho, bairro de classe baixa na Zona Norte do Rio, o pintor foi agraciado com um espaço cativo. Na avenida principal do bairro, num apartamento de paredes todas verdes, estão guardadas sete obras de De Hory. Duas delas imitam Raoul Dufy; em outra, o pintor encarnou Fernand Léger; no desenho azul de uma moça de traços longilíneos, ele foi Amedeo Modigliani; e, na outra parede, De Hory surrupiou as pinceladas de André Derain. As jóias da coleção remetem aos dois grandes astros da pintura do século XX: uma odalisca à la Henri Matisse e três mulheres na linguagem de Picasso.
O dono do acervo também teve seus dias de astro. Nascido Moisés Abraão Goldal, ele ocupou seu espaço no cinema brasileiro, especialmente na pornochanchada, com o nome de Carlo Mossy. Aos 61 anos, o senhor calvo e de olhos azul-ultramarinos já atuou em quarenta filmes, muitos deles sucessos populares nos anos 70, como As Grã-Finas e o Camelô ou Como É Boa Nossa Empregada. Também produziu três dezenas de longas-metragens. Mossy explica que sua produtora foi montada com equipamentos que recebeu de presente de dois amigos: Elmyr de Hory e Fernand Legros.
Os dois, que são os personagens centrais de um intrigante documentário de Orson Welles, F For Fake – Verdades e Mentiras, cruzaram por acaso a vida de Mossy. Em 1964, ele estava na praia de Copacabana, garotão jogando frescobol com um amigo, quando viu um homem se afogando. Pulou no mar, arrastou o sujeito para a areia, prestou-lhe o boca-a-boca e o acompanhou até um quarto do Copacabana Palace. Ao despertar, o resgatado lhe disse: “Você é que me salvou? Você acaba de salvar sua vida”. O náufrago era Legros, que viria a ser conhecido mais tarde como o principal marchand de obras falsas do século XX.
Mossy conta que durante três anos foi companheiro de Legros, período no qual conviveu intensamente com o sócio dele, De Hory. Como mostra o filme de Welles, o falsário húngaro era capaz de fazer, com alguma qualidade, um Picasso ou um Modigliani em menos de dez minutos. Legros os vendia com igual rapidez.
Mossy afirma que chegou a ajudar na comercialização de algumas obras. Foi “mula” de Legros. Viajou para a Austrália e para o Japão transportando telas falsas feitas por De Hory, antes que o esquema da dupla fosse desbaratado, e Legros detido, no Rio de Janeiro, no final dos anos 70.
Da relação com os dois, Mossy herdou mimos. Legros havia lhe dado 31 pinturas de Elmyr de Hory, vendidas no início dos anos 80 no Rio. As sete obras que ainda guarda em seu apartamento foram presentes do próprio falsário. Tanto as pinturas vendidas quanto a coleção em Vicente de Carvalho trazem a assinatura do próprio De Hory, prática adotada depois que a fama veio bater à sua porta.
O mais célebre falsificador vivo, o inglês John Myatt, tem uma trajetória semelhante. Protagonista daquela que a Scotland Yard classificou como “a maior fraude artística do século XX”, o pintor conseguiu esparramar por museus e coleções importantes cerca de 200 obras falsas. Em muitas de suas falsificações de artistas como Matisse, Chagall e Jean Dubuffet, Myatt chegou a usar materiais pouco ortodoxos, como o lubrificante íntimo KY. Ainda assim, conseguiu leiloar seus trabalhos em casas como a Sotheby’s e a Christie’s, e chegou a receber 175 mil dólares por um falso Giacometti.
Detido em 1995, Myatt foi condenado a seis anos de prisão. Ao deixar a penitenciária de Brixton, onde era chamado pelos detentos de “Picasso”, saiu do armário e passou a se dedicar a um novo negócio: pintor assumido de falsos. Hoje vive de fazer “fakes legítimos” de Monet, Braque e até de contemporâneos, como o americano Jasper Johns, todos com a sinuosa assinatura de John Myatt. Você pode, por exemplo, encomendar o retrato de sua amada na linguagem de Modigliani, ou de sua sogra à moda de um Picasso cubista.
Em entrevista por e-mail, Myatt garante que está bem mais próspero depois que se tornou um falsário legítimo.
“Ganho mais dinheiro legalmente do que quando era criminoso.” Seus rendimentos deverão aumentar em 2010, data prevista para o lançamento de Genuine Fakes, filme de Hollywood baseado em sua vida.
Apesar de se considerar um grande falsificador, Myatt diz que não é páreo para outros dois astros do gênero. O primeiro foi o inglês Eric Hebborn, notório falsário de desenhos de velhos mestres, que em 1996 foi encontrado agonizante, com o crânio esmagado, numa rua de Roma, pouco depois de publicar o instrutivo livro The Art Forger’s Handbook (O Manual do Falsário). O outro é Han van Meegeren (1889–1947), o “Leonardo da Vinci da falsificação”, famoso por imitar com perfeição o gênio holandês do séculoXVII Johannes Vermeer. Seus falsos lhe renderam mais de 30 milhões de dólares.
“Eu e as putas somos os profissionais mais antigos do mundo. Há 40 mil anos ninguém falava, mas já desenhava”, brinca Enrico Bianco. Às vésperas dos seus 90 anos, o bem-humorado baixinho de rabo de cavalo abre o portão da sua casa, em São Conrado, no Rio. Percorre então um corredor estreito até seu ateliê, uma sala pequena com chão de tábuas corridas, pouca luz, cheiro de solvente e barulho de grilos. Sob o cavalete, uma natureza morta ainda inacabada na qual ele trabalhava naquela tarde.
Nascido em Roma, e desde 1937 no Brasil, o pintor ainda produz todos os dias – ele e seus imitadores. “É uma barbaridade a quantidade de falsos que fizeram das minhas pinturas. Minha obra foi muito prejudicada por isso. Recentemente um grande colecionador mineiro me disse que deixou de comprar pinturas minhas porque são muitos os falsos Bianco no mercado.”
Há três anos, ele e um filho resolveram tentar combater a pirataria. Além de dar início à catalogação da obra completa do pai, Paolo Bianco desenvolveu, em parceria com a Casa da Moeda do Brasil, um sofisticado certificado de autenticidade. O pintor, que foi discípulo, assistente e amigo de Portinari, acha que o fato de ter sido obrigado a tomar uma medida desse tipo é a prova cabal de que o artista brasileiro vive no regime do “cada um por si”. “Não existe nenhuma lei que nos proteja. Se alguém me traz uma obra atribuída a mim, mas que vejo que é nitidamente falsa, e eu resolvo escrever a palavra ‘falso’ sobre a tela, sou processado pelo dono da pintura.”
Aldemir Martins, um dos artistas mais populares do país, chegou a tomar a atitude sonhada por Bianco.
Mariana Martins, filha do pintor, morto em 2006, testemunhou a cena. Ele se irritava com a pintura fraudulenta, pegava uma caneta e escrevia um “falso” bem grande sobre a tela. Pedro Martins, outro filho, diz que o número de falsos de seu pai no mercado é enorme: “De cada dez quadros que nos trazem para avaliar só seis são bons”.
Não apenas os artistas mais valorizados do país, como Di Cavalcanti ou Guignard, ou os mais populares, como Aldemir Martins, são chamarizes para falsários. Embora tenha uma extensa carreira, com mais de 100 exposições individuais na Europa, Inos Corradin não é um artista caro. Segundo um de seus marchands, suas pinturas são cotadas entre 6 mil e 8 mil reais (e não é difícil consegui-las por metade disso). Há um par de anos, alguns amigos do pintor começaram a lhe dizer que tinham visto “Inos” que não pareciam Inos. Mas o italiano, radicado no Brasil há mais de cinqüenta anos, sempre duvidou que estivesse sendo falsificado.
Em meados do ano passado, fez uma rápida visita ao Shopping dos Antiquários. E encontrou um falso. Autor de obras bem coloridas, com personagens gordinhos e sorridentes, Corradin resolveu ir mais a fundo. Em poucos meses localizou dezoito pinturas piratas.
Na outra ponta da balança comercial artística brasileira, Antonio Dias, um dos contemporâneos mais importantes do país, também tomou conhecimento há menos de um ano da primeira falsificação de sua obra.
Ricardo Rego, dono da galeria Lurixs, do Rio, tinha recebido oferta de uma obra do artista. O dono da tela pedia 100 mil dólares. Dizia tratar-se de uma pintura dos anos 70, da valorizada série Constelação. O galerista foi, viu e assustou-se. Antes de ir embora, fotografou a tela e mandou a imagem para o artista. “O falsário fez tudo errado”, afirma Dias. “Não teve sequer o trabalho de saber com que tipo de material eu pintava. A tinta era brilhosa demais e a superfície da pintura estava toda craquelada, o que não acontece com minhas obras.” O fato de um artista como ele já estar sendo falsificado é um dos indícios de uma tendência da pirataria plástica brasileira. Artistas mais recentes estão cada vez mais no centro do alvo.
André Millan, dono da galeria que leva seu sobrenome, uma das mais importantes de São Paulo, não tem dúvida: agora será a vez dos artistas concretos e neoconcretos dos anos 50. Ele aposta que, em breve, Lygia Clark, Lygia Pape, Franz Weissman, Sergio Camargo, Amilcar de Castro, Geraldo de Barros e Helio Oiticica, todos já mortos, se tornarão os prediletos dos piratas. Os motivos são a valorização da obra deles (tanto no mercado nacional como no estrangeiro) e a facilidade de copiá-los. Os materiais que empregavam são mais fáceis de ser manipulados do que os pigmentos dos modernistas, as formas geométricas que marcam a geração neoconcreta também não requerem grande perícia do falsificador.
De olho nisso, o Projeto HO, responsável pela obra de Oiticica, anunciou recentemente uma parceria com o Museu de Houston (EUA) para começar a fazer o raisonné do artista. A expressão francesa aparece com freqüência no discurso dos estudiosos da arte quando o assunto é falsificação. Raisonné é como se convencionou chamar um tipo de catálogo completo e sistemático da obra de um artista, com reproduções de todos os seus trabalhos e referências documentais sobre cada um deles.
Marcelo Araújo, da Pinacoteca, chama a atenção para a dificuldade de reunir no Brasil a documentação necessária para um raisonné. “Nossos arquivos sobre arte são vergonhosos. Exemplo disso é que até hoje não sabemos com exatidão quais obras estiveram na Semana de 22.”
Um dos principais leiloeiros do país, Evandro Carneiro, concorda, mas sustenta que a catalogação da obra completa dos principais artistas brasileiros é o único meio eficiente para purgar as obras falsas do mercado.
Ele diz que aguarda com otimismo uma fornada de raisonnés que vêm sendo anunciados já há algum tempo.
Deverão ser publicados em breve catálogos com toda a produção de artistas como Tarsila do Amaral, Eliseu Visconti e Iberê Camargo, do qual já se publicou o primeiro volume. Nada se comparará, entretanto, ao trabalho feito com a obra de Portinari.
O livro Arte no Brasil, publicação da editora Abril Cultural lançada no início dos anos 80, traz em sua página 719 uma reprodução da obra Mulher Chorando, de Candido Portinari. Lábios crispados, mão sobre a cabeça, um cacho de lágrimas cristalizado sobre a bochecha esquerda, a pintura, em matizes de preto e branco, é uma expressiva representação da dor. Para alguns, especialmente para os donos da obra, causaria ainda mais dor saber que Portinari nunca chegou perto daquela tela.
A mulher que chorava no livro organizado pelo conhecido historiador da arte José Roberto Teixeira Leite havia sido pintada por uma filha do senador pernambucano Antônio de Barros Carvalho. Ajudada pelo marido, com quem faria outros fakes, ela produziu uma cópia de um Portinari. Usou como modelo uma bela pintura original, que pertencia a seu pai, amigo do artista.
A obra falsa só foi desmascarada muitos anos depois de pintada. No início dos anos 80, a pesquisadora Christina Penna viajava por diversas cidades européias para catalogar obras de Portinari espalhadas pelo continente, e foi em um depósito do Banco Português, o BC luso, no Porto, que ela encontrou a falsa Mulher Chorando, parte do espólio de uma instituição financeira lusitana que tinha ido à bancarrota.
O matemático João Candido Portinari cita este caso como uma das melhores falsificações que já viu do trabalho de seu pai. E não são poucas. Na segunda gaveta de um arquivo de metal da sede do Projeto Portinari, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, estão informações detalhadas sobre 618 pinturas falsamente atribuídas ao artista do município paulista de Brodowski.
Esse depósito de fraudes é o subproduto da pesquisa mais completa já feita sobre a obra de um artista brasileiro. Desde 1979, quando foi criado, por iniciativa de João Candido, o PP amealhou 25 mil documentos, 9 mil cartas e 130 horas de depoimentos de amigos do artista. Ao longo de 27 anos, a equipe do projeto, coordenada pelo filho único de Portinari, processou todo esse inventário para elaborar o catálogo com a obra completa do artista. Lançado na Bienal de São Paulo, de 2004, o raisonné conjumina, em cinco volumes que somam 2 406 páginas, reproduções de 4 991 pinturas, desenhos e gravuras do modernista, acompanhadas de informações detalhadas sobre cada uma delas.
“A falta de informação em arte é o grande trunfo dos falsários. Qualquer sujeito que for comprar um Fiat Uno 1980 vai atrás de um documento de ‘nada consta’. Mas muita gente compra pinturas de 100 mil reais sem checar direito a procedência”, diz a historiadora Christina Penna, coordenadora do raisonné de Portinari. Em uma ocasião, ela foi procurada por um advogado amigo que lhe contou, em júbilo, ter comprado dois Portinaris por 80 mil dólares. “Fui ver as obras e aquilo não valia nem o material de pintura usado na tela.”
O episódio foi anterior ao lançamento das obras completas do artista. “Comprar um Portinari falso depois do lançamento do raisonné é uma verdadeira façanha”, afirma o experiente marchand Max Perlingeiro, dono das duas Galerias Pinakotheke, em São Paulo e Rio. “Hoje só compra Portinari falso quem quiser”, complementa Evandro Carneiro, que em setembro de 2007 vendeu em sua casa de leilões uma pintura do artista por 3,85 milhões de reais, o valor recorde pago até o momento por uma obra brasileira.
Há quem discorde do coro de que o raisonné tudo resolve. Um deles é o próprio responsável pelo raisonné mais respeitado do país. Embora não esconda o orgulho pelo trabalho que coordenou, João Candido diz que o catálogo não dá cabo da questão da falsificação. “Ouso dizer que desde que ele foi publicado o número de obras falsas apresentadas no Projeto Portinari cresceu. Só de 2004 para cá já nos trouxeram mais de 100 falsificações.”
Ele acredita que o aumento dos fakes seja resultado da divulgação do nome do artista. Quanto mais se fala em Portinari, mais os pequenos falsários se sentem estimulados a fraudar sua obra. “Aposto que o episódio do roubo de uma tela dele no Masp vai incentivar as falsificações”, afirma, enquanto fuça alguma coisa no seu notebook. “Veja só o que tenho aqui”, exclama, apontando para o computador. “É a foto de uma obra que querem submeter ao Projeto. Chegou esta manhã. Eu conheço, chama-se Futebol, e é dos anos 50.” E depois de uma pausa: “Mas é uma cópia. É falsa.”