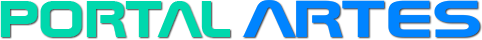“As pinturas de Jackson Pollock não querem dizer nada: elas são”, escreveu Octavio Paz. Creio que Pollock queria inventar o que dizer, fora do que a pintura existente dizia; queria, pela ação, ultrapassar as formas do dizer pictórico. Só era possível se propor a isso, crer nisso, porque a arte ganhara total autonomia: um quadro, uma escultura, não se referem senão a si mesmos, são obras de arte. Um quadro, uma tela (dentro de uma moldura ou não) é o espaço da arte, obra de arte em potencial. Logo, o que se pintar ali é pintura, arte. Não importa o que represente nem como se faça, com que técnica, dentro de que normas. Não há mais normas nem limites técnicos. Por isso, Pollock pode, dançando sobre a tela estendida no chão, deixar pingar nela a tinta à medida que ele se move – e isso é arte; o que daí resulte será “expressão”. Ninguém sabe o que significa, senão que é um modo outro de fazer arte. Diga o que disser, ou não diga – é arte.
Por isso, não é de espantar que a arte tenha se tornado o que se tornou: hoje, já não apenas o que se faz na tela, mas também o que se faz fora dela, é arte. O que ocorreu? Inicialmente, com a eliminação da “mensagem” e da “representação”, a obra de arte tornara-se apenas forma – e toda forma tem expressão, conforme nos ensina a teoria da Gestalt. Logo, não tem o artista que se preocupar com o que sua obra diz ou representa: se toda forma tem expressão, ela fatalmente dirá alguma coisa – alguma coisa que não a motivou, que não está na sua origem, mas “está nela”, em todos os estágios de sua realização e de tal modo que, se o autor se detiver em qualquer momento de seu trabalho, a obra sempre significará algo e diferente do que significaria quando terminada.
E quando estará terminada? Na verdade, como não pretende dizer nada anterior a si mesma, estará terminada a qualquer momento ou nunca. A arte, assim, não é mais dizer e, sim, apenas, fazer.
Mas pode se dizer que a arte sempre foi, sobretudo, um fazer. Isto é certo, mas um fazer em função de um dizer que implicava um plano e um objetivo final. Hoje, o fazer do artista plástico, não só não parte de algo a dizer, como tampouco obedece a qualquer norma ou objetivo. Por isso, o significado surge do fazer e, portanto, cabe ao espectador e ao próprio autor decifrar o seu significado.
Antes da época moderna, quando a religião era detentora do poder intelectual e espiritual da sociedade, não se via a arte como um valor autônomo. Conforme observa André Malraux, em Les Voix du Silence, uma escultura gótica era vista como o Cristo Crucificado e uma afresco como a Santa Ceia e não como obras de arte.
A noção de arte como expressão autônoma nasce com o surgimento dos museus e do mercado de arte. Nos museus, as imagens religiosas estão num espaço dessacralizado, que nada tem da atmosfera mística das catedrais e dos conventos; no mercado de arte, por sua vez, elas se tornaram mercadorias, cujo valor monetário se expressa em suas qualidades estéticas e na sua raridade.
Num ensaio célebre, intitulado “A obra de arte na época da reprodução técnica”, Walter Benjamin demonstrou como, ao perder o caráter de obra única, a obra de arte, por tornar-se produção industrial, perde a aura de objeto único, de original, uma vez que, nesse tipo de produção, a obra – seja um filme ou um automóvel – não tem original: o original do filme é um negativo e o do automóvel, um projeto.
No seu modo de ver, durante séculos, a obra estava envolvida pela aura da religiosidade.Essa aura, na época moderna, com a autonomia artística da obra, transforma-se em aura estética que, por sua vez, segundo ele, foi desfeita em conseqüência das novas técnicas de reprodução, que deram fim à obra como objeto único. Ainda na opinião de Benjamin, não apenas as obras surgidas da produção industrial perderam a aura, mas também as que haviam sido criadas artesanalmente, como, por exemplo, a Mona Lisa. Ela teria deixado de ser uma obra única, em função da reprodução gráfica, que a multiplica num número infindável de cópias que são, todas elas, idênticas ao original. Essa multiplicação do original, conforme o teórico alemão, liquidaria com a aura do objeto único, que era a obra de Da Vinci.
Essa teoria, que gozou de grande prestígio no meio artístico, foi, ao meu ver, negada pela realidade. A multiplicação da Mona Lisa em cópias de grande fidelidade, em vez de desmitificá-la, mitificou-a ainda mais, tornando-a mais famosa a cada dia, o que motiva as pessoas a quererem conhecer a obra original. Basta uma visita ao Louvre para verificar a verdadeira multidão que se acotovela para deter-se por um minuto que seja em frente à mais célebre obra de arte que existe. E, se não bastasse, a teoria é negada também pela mitificação dos objetos industriais, como carros, gramofones etc., que são preservados por colecionadores no mundo inteiro. É que a eles se incorporou a aura da raridade ou da história.
Não obstante, isso não anula o fenômeno decisivo que foi o reconhecimento da autonomia da expressão estética. Quando o quadro deixou de ser uma expressão religiosa para se tornar obra de arte, iniciou-se um processo que mudaria o curso da história da arte.