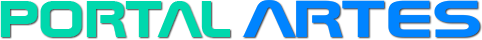No interior da Bélgica francófona, um Museu de Artes Contemporâneas é exemplo de integração artística, turística, cultural e econômica.
Uma luz cinza, invernal, domina o ambiente. O teto intercalado de vidro e concreto deixa os fracos raios de sol se espraiarem tranqüilamente nas paredes ainda vazias da “sala quadrada” desse recente Museu de Artes Contemporâneas (MACs) europeu. É em um dos eixos de mais alta densidade cultural do velho continente – entre Paris, Amsterdã e Bruxelas, no interior da Bélgica francófona – que se constrói social, econômica e artisticamente um novo “templo das musas”. O que poderia ser apenas mais um ponto na constelação de instituições circunvizinhas está se mostrando, com essa combinação de fatores, um exemplo de “ecologia sócio-cultural”.
Assim como a arquitetura privilegia o que a natureza tem para oferecer, o MACs se esforça para se integrar à sociedade local. “Fizemos questão de recrutar nossos vigias na região, onde o desemprego chega a 40%”, diz o secretário-geral Serge Rangoni. Aqui, em plena Europa, fala-se de pobreza. E de abandono. Instalado em um antigo complexo industrial do século 19, de estilo neoclássico – chamado Grand Hornu – o local estava praticamente condenado até os anos 70. Hoje, após seis anos de trabalho e quase sete milhões de euros gastos, é um dos protagonistas na revitalização da área.
Parte desse orçamento está sendo destinado à formação dos vigias. Todos os 15 recrutados são desempregados há quase dois anos sem atividade. Até agosto, antes da abertura da primeira exposição, em setembro, eles recebem um treinamento que inclui noções de história da arte e visitas a outros museus. “Não são apenas 15 pessoas, são 15 famílias que vão se restabelecer socialmente e viver de um contato com a arte”, afirma o diretor Laurent Busine.
Trata-se de um lento trabalho de multiplicação, que abrange todas as gerações. As crianças fazem animações para descobrir o universo da arte contemporânea. E também são chamadas para investigar a memória – bastante rica – do Grand Hornu. Ali vivem imigrantes aposentados que trabalharam até 1954 nas minas de carvão, a 900 metros de profundidade, em condições difíceis. Meninos e meninas foram entrevistar antigos mineiros, como parte do estudo da primeira obra da coleção do MACs – não à toa, uma encomenda de 1997 ao francês Christian Boltanski. Artista reconhecido internacionalmente por suas instalações que acumulam pequenos dados biográficos de anônimos, sua obra é uma parede de caixas de latão com nomes e fotos de gente do local. “Gosto de intervir em lugares carregados de memória, como o Grand Hornu. Sinto os museus como lugares totalmente falsos. Na maioria deles, ninguém dormiu ali de verdade, nem viveu, nem trabalhou”, diz Boltanski.
A escolha de um artista conceitual como Boltanski demonstra um desejo de não cair no gosto fácil para compor o acervo. “Não vamos reunir peças da mitologia da arte contemporânea, como fazem tantas instituições européias. A universalidade à qual aspira o MACs é fundada na capacidade dos artistas em evocar a diversidade do mundo na singularidade da sua criação”, justifica Laurent Busine.
A partir dessa premissa, ele constituiu o eixo curatorial em torno de três pilares: arquitetura, memória e poética. Nesse último elemento está o espaço aberto às outras artes, cênicas inclusive. Dentre os projetos realizados antes da abertura está uma peça de teatro – Le Cirque Célibataire (O Circo Solteiro), a partir de textos de artistas como Marcel Duchamp, Louise Bourgeois e Robert Filliou. O roteiro, costurado por Didier Payen e Isabelle Marcelin, dá uma visão lúdica das artes plásticas contemporâneas. E transformou-se, também, em um dos elementos de comunicação do museu, nas cidades vizinhas e outras regiões do país.
Outro projeto reforça essa opção de marketing com fundamento artístico. Durante as obras, foram gravadas vozes, depoimentos, sons, barulhos. A partir desse material, Richard Kalisz fez uma “composição sonora” em dois CDs, intitulada Voix de Chantier (Vozes do Canteiro de Obras). Com essas duas ações a equipe deixa claro que não é composta de assistentes sociais, mas de administradores dinâmicos e conscientes de que também é necessário atrair o público – até o interior da Bélgica – buscando novas formas de fazer passar sua mensagem. Em dezembro, o museu mostrava na TV inserções publicitárias sobre obras da coleção – Um minuto para a Arte – num outro projeto para se fazer visto e falado.
O MACs explica, assim, a sua existência em uma área já quase saturada de museus: ancorado no local e direcionado ao internacional, entre o social, econômico e artístico, apoiando-se no passado para elaborar seu presente e futuro. Esse último eixo se concretiza de maneira mais forte na arquitetura de Pierre Hebbelinck. O vidro prioriza a luz natural e deixa também se estabelecer o diálogo entre o contemporâneo e o patrimônio histórico. Numa tangente da antiga construção, Hebbelinck criou o novo prédio do MACs, com salas de tamanho variável. “Não era necessário santificar o que já existia, mas aproveitar suas belezas e potencialidades”, explica.
A concretude da arquitetura, no entanto, não sossega o diretor Laurent Busine, que prepara a primeira exposição. Ele se pergunta, aproveitando a situação singular de dirigir um museu com paredes vazias por alguns meses ainda: “Hoje o MACs existe e não existe. Seriam então as pedras e tijolos que fazem de um museu um museu?
Quando acreditamos abraçar um museu, ele nos escapa”, filosofa.
Matéria para reflexão não falta nesse projeto ambicioso: um novo museu no velho continente, fugindo às fórmulas pasteurizadas de grifes, como os tão falados e polemizados Guggenheim; um investimento público de peso em arte contemporânea como símbolo e prática da redinamização de uma região empobrecida – não sem intempéries e incertezas financeiras, negociadas com as diferentes tendências políticas locais. Seria esse MACs belga a terceira via no às vezes empoeirado mundo museal?