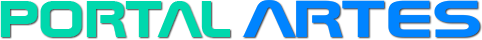Diz Ricardo Piglia que “se ser de vanguarda quer dizer ‘moderno’, todos nós, escritores, queremos ser de vanguarda”. Mas, continua: “nos dias de hoje, pelo menos na Argentina, a vanguarda converteu-se num gênero. Existe uma maneira cristalizada, tão plena de convicções e de regras, que se poderia escrever um romance de vanguarda com a mesma facilidade com que se pode escrever, por exemplo, um romance policial”.
Trocando a Argentina pelo Brasil, e o “romance de vanguarda” pelo que se convencionou aqui chamar de “arte contemporânea”, teremos uma equação similar, da qual poucos têm escapado (o que não quer dizer que não haja bons artistas fazendo arte contemporânea realmente criativa e de qualidade. Nelson Lerner, Cildo Meireles, Regina Silveira estão aí para provar isso).
O fato é que poucos artistas têm tido a coragem de escolher um caminho realmente pessoal, que fuja às imposições das “últimas tendências internacionais” (leia-se “tendências de mercado”). Entre estes, destaca-se, pela coerência de seu percurso, paradoxalmente multifacetado, o goiano Siron Franco.
Siron Franco nasceu de família pobre e, quando pequeno, contribuía para a economia doméstica ajudando o pai na padaria onde trabalhava ou vendendo nos campos de futebol os pastéis que sua mãe fazia. Apesar de aluno desatento – como geralmente eram os alunos de inteligência inquieta obrigados a uma pedagogia burocrática, típica do século passado – Siron gostava de desenhar. Com uma diferença. Se toda criança gosta de desenhar numa certa fase e depois pára, Siron não parou mais.
Em 1967, com 20 anos passou a pintar retratos de gente da sociedade local. Ao retratar a mulher do governador de Goiás, abriu caminho para Brasília, onde se tornou o pintor oficial de figuras da alta sociedade da capital brasileira. Neste mesmo ano fez sua primeira individual (antes mesmo de participar de qualquer coletiva) no Hotel Bandeirantes e conseguiu classificar três desenhos na Segunda Bienal da Bahia. Sua estréia como artista profissional foi tumultuada, como se preconizasse um futuro de conflitos ante desmandos e prepotências. Na mesma noite da inauguração, a Bienal foi fechada pelas tropas da ditadura militar e duas das obras de Siron foram destruídas. A que sobrou, Cavalo de Tróia, recebeu o Prêmio de Aquisição.
Com escolaridade precária, sem acesso a galerias e museus nem a livros de arte, sem mestres nem parâmetros pelos quais se orientar, Siron, com este prêmio, sentiu-se mais seguro para persistir. Começa então uma série de exposições em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília até despertar a atenção de Walmir Ayala, poeta, crítico de arte e editor de cultura do Jornal do Brasil, e de Jayme Maurício, editor cultural do Correio da Manhã, que passaram a promover o novo artista.
A partir daí a carreira de Siron ascendeu. Em 1973 foi convidado para participar do Primeiro Salão Global da Primavera, em Brasília, ganhando o Prêmio de Viagem, que lhe possibilitou passar seis meses no México, a primeira de muitas viagens internacionais.
Em 1986 já tinha aceitado uma encomenda da comunidade ecumênica Bahá’i. Siron idealizou uma ampulheta gigante que seria preenchida com punhados de terra de todos os países do mundo: um símbolo de igualdade e convivência pacífica num mesmo espaço e tempo. Em 1990, no Dia da Criança, fez uma instalação no platô governamental de Brasília, com mil e vinte caixões pequenos pintados de verde, amarelo e azul, que vistos de longe formavam a bandeira nacional, num protesto contra a mortalidade infantil.
Mas é sobretudo na pintura que a arte de Siron se faz soberana. Um bom exemplo é a famosa série Peles, iniciada também em 1992, em que denuncia a matança de bichos para serem transformados em casacos de peles de socialites, e na qual evolui para quadros que beiram a abstração.
Como toda arte que merece este nome, para além de meros jogos lúdicos ou exercícios especulativos, a arte de Siron Franco está inextricavelmente ligada à vida, ou seja, ao que se passa ao redor e dentro do artista.