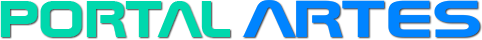Inaceitável para muitos, numa era relativista, a cultura é um dos fatores determinantes para o progresso econômico dos países.

A velha guerra, de décadas, contra a pobreza e o autoritarismo nos países pobres da África, Ásia e América Latina, tem produzido mais desapontamentos e frustrações do que vitórias. A privação e o desespero que prevaleciam na metade do século persistem na maioria desses países, mesmo uma década após o triunfo ideológico do capitalismo sobre o socialismo. Onde chefes de estado democraticamente eleitos substituíram os tradicionais regimes autoritários, um padrão mais notado na América Latina, as experiências são frágeis, e “democracia” geralmente significa pouco mais do que eleições periódicas.
O que explica a persistência da pobreza e do autoritarismo? Por que se mostraram tão intratáveis? Por que nenhum país da África, Ásia ou América Latina, senão pelos Tigres Asiáticos, ingressou no grupo de elite dos países influentes? Os diagnósticos convencionais que foram oferecidos durante a primeira metade de século – exploração, imperialismo, educação e deficiências de conhecimento, falta de oportunidade, falta de capital, mercados inadequados, instituições fracas – são demonstravelmente inadequados. O elemento crucial que tem sido amplamente ignorado é o cultural: quer dizer, valores e atitudes que atrapalham o progresso. Algumas culturas, sobretudo as do Oeste e Leste Asiático, provaram-se mais propensas ao progresso do que outras. Suas realizações são reiteradas quando seus povos migram para outros países, como no caso dos ingleses, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia; e dos chineses, japoneses e coreanos, que prosperaram onde quer que tenham migrado.
A conclusão de que a cultura importa desce pesada. Ela colide com o relativismo cultural, amplamente defendido no mundo acadêmico, que argumenta que as culturas só podem ser avaliadas nos seus próprios termos e que juízos de valores por estrangeiros são tabu. A implicação é que todas as culturas são igualmente valiosas, e aqueles que afirmam o contrário são geralmente tachados de etnocêntricos, intolerantes ou até racistas. Um problema semelhante é encontrado nos economistas que acreditam que a cultura é irrelevante – que as pessoas respondem a sinais econômicos da mesma forma, independente de suas culturas.
Mas um número crescente de acadêmicos, jornalistas e políticos vem escrevendo e falando sobre cultura como um fator crucial no desenvolvimento humano, e um novo paradigma do progresso humano está emergindo. Alan Greenspan, presidente da Federal Reserve sintetizou a mudança recentemente, quando afirmou (em relação às condições econômicas na Rússia) que até então havia presumido o capitalismo como “da natureza humana”. Mas após o colapso da economia russa, concluiu que “não é da natureza humana em absoluto, mas da cultura” – uma reafirmação sucinta da tese weberiana de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
Nos anos 50, o mundo voltou sua atenção, da reconstrução de países devastados pela Segunda Guerra Mundial, para o fim da pobreza, ignorância e injustiça em que a maioria dos povos da África, Ásia e América Latina vivia. O otimismo a*****va, após o incrível sucesso do Plano Marshall na Europa Ocidental e a ascensão japonesa, das cinzas da derrota. O desenvolvimento era visto como inevitável, particularmente à medida que a mancha colonial desaparecia. O livro de enorme influência Os Estágios do Crescimento Econômico, de Walt Rostow, publicado em 1960, afirmava que o progresso humano era dirigido por uma dialética que podia ser acelerada. A Aliança pelo Progresso, resposta de John F. Kennedy à revolução cubana, tomou-se do otimismo dominante. Ela duplicaria o sucesso do Plano Marshall, e a América Latina se encaminharia certa à prosperidade e à democracia dentro de dez anos.
Mas, à medida que o século veio acabando, o otimismo foi sendo substituído por frustração e pessimismo, apesar do consenso sobre a economia de mercado e a democracia. Espanha, Portugal, Coréia do Sul, Taiwan, Singapura e a antiga colônia inglesa Hong Kong seguiram a trajetória de Rostow em direção ao Primeiro Mundo, e alguns outros – por exemplo, Chile, China, Malásia e Tailândia – experimentaram um crescimento rápido e sustentado. Espanha e Portugal finalmente abriram-se ao Iluminismo, à Revolução Industrial e aos valores que dirigiram a modernização de seus vizinhos na Europa. E como o Japão, antes deles, os Tigres Asiáticos levaram os aspectos do Confuncianismo que se assemelhavam à ética protestante e as políticas de estímulo à exportação ao sucesso.
Mas, a grande maioria dos países ainda fica bem atrás. Das seis bilhões de pessoas que habitam o mundo hoje, menos de um bilhão podem ser encontradas nas democracias avançadas. Mais de quatro bilhões vivem nos que o Banco Mundial classificou de países de “baixa renda” e “baixa renda média”. A qualidade de vida nesses países é desanimadora:
– Metade, ou mais, da população adulta de 23 países, a maioria na África, é analfabeta. Países não-africanos incluem o Afeganistão, Bangladesh, Nepal, Paquistão e Haiti.
– Metade, ou mais, das mulheres em 35 países é analfabeta, incluindo não apenas os países acima mencionados, mas também Algéria, Egito, Guatemala, Índia, Laos, Marrocos, Nigéria e Arábia Saudita.
– A expectativa de vida está abaixo dos 60 anos em 45 países, a maioria na África, mas também no Afeganistão, Cambodja, Haiti, Laos e Papua Nova Guiné. A expectativa de vida está abaixo dos 50 anos em 18 países, todos na África. E em Serra Leoa é de apenas 37 anos.
– O índice de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos é maior do que 10% em, pelo menos, 35 países, a maioria, novamente, na África. Outros países incluem Bangladesh, Bolívia, Haiti, Laos, Nepal, Paquistão e Iêmen.
– O índice de crescimento da população nos países mais pobres é de 2,1% ao ano, três vezes o dos países de alta renda. O índice de crescimento em alguns dos países islâmicos é assustadoramente alto: 5% no Oman, 4,9% nos Emirados Árabes Unidos, 4,8% na Jordânia, 3,4% na Arábia Saudita e no Turquemenistão.
Além disso, os padrões de distribuição de renda mais desiguais entre os países que fornecem tais dados ao Banco Mundial – nem todos o fazem – são encontrados nos países mais pobres, particularmente na América Latina e África. Os 10% mais influentes da população brasileira acumulam quase 48% da renda nacional. Quênia, África do Sul e Zimbabwe ficam atrás por apenas uma fração de inteiro.
As instituições democráticas são normalmente fracas ou inexistentes na África, nos países islâmicos do Oriente Médio, e no resto da Ásia. A democracia pareceu prosperar na América Latina nos últimos cinqüenta anos. Argentina, Brasil e Chile parecem dirigidos à estabilidade, após décadas de governos militares. Mas, a fragilidade das experiências democráticas é sublinhada pelos eventos recentes em vários países: na Colômbia, onde guerrilhas de esquerda, geralmente em cooperação com traficantes de drogas, controlam grande parte do país e ameaçam derrubar o governo; no Equador, onde a inércia e a corrupção na capital andina Quito têm contribuído para uma profunda recessão e um sentimento separatista na costeira Guayaquil; e na Venezuela, onde Hugo Chávez, um militar que tentou dois golpes no começo dos anos 90, é agora presidente e conduz sozinho o país, o que deixa a dúvida se será ele, e não Fidel Castro, o último caudilho latino-americano. E ainda resta uma pergunta de peso: por que, depois de mais de 150 anos de independência a América Latina, uma extensão do Ocidente, falhou em consolidar instituições democráticas?
Em suma, o mundo no começo do século 21 está muito mais pobre, injusto e autoritário do que a maioria das pessoas, há meio século atrás, esperava que viesse a estar, e os frutos antecipados pelo consenso democrático-capitalista do pós-Guerra Fria, com raras exceções, ainda esperam ser colhidos.
À medida que se tornava claro que os problemas do sub-desenvolvimento eram mais intratáveis do que os especialistas em desenvolvimento haviam previsto, duas explicações de raízes marxistas-leninistas passavam a dominar as políticas dos países pobres e as universidades dos países ricos: colonialismo e dependência.
Lênin identificou o imperialismo como um estágio final e inevitável do capitalismo, que refletia o que ele viu como a incapacidade dos países capitalistas crescentemente monopolistas em achar mercados domésticos para seus produtos e capital. Para as antigas colônias, possessões ou protetorados que acabavam de ganhar a independência, o imperialismo foi uma realidade que deixou uma profunda impressão na psique nacional e que apresentou uma explicação pronta para o sub-desenvolvimento – particularmente na África, onde as fronteiras nacionais foram geralmente demarcadas arbitrariamente, sem referência à homogeneidade cultural ou coerência tribal.
Para aqueles países, no que viria a ser chamado de Terceiro Mundo, que haviam sido independentes por um século ou mais, como na América Latina, “imperialismo” tomou a forma de “dependência” – a teoria de que os países pobres da “periferia” eram enganados pelos países ricos do “centro”. Estes países, supostamente, diminuíam os preços de bens de consumo básicos no mercado mundial e inflacionavam os preços dos bens manufaturados, permitindo que suas corporações multinacionais extorquissem lucros excessivos.
A injustiça da dependência foi popularizada pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano, cujo livro de sucesso fenomenal, As Veias Abertas da América Latina, foi publicado pela primeira vez em 1971 (desde então, foi reeditado sessenta e sete vezes). As seguintes linhas captam sua essência: “A América Latina é a região das veias abertas. Da descoberta até o presente, nossa riqueza nos tem sido tomada, primeiro, pelo capital europeu e, então, pelo americano, e tem-se acumulado naqueles distantes centros de poder. A divisão internacional do trabalho consiste em alguns países se especializarem em ficar ricos e alguns, em ficar pobres.”
As raízes marxistas-leninistas da teoria da dependência aparecem em outro livro popular, publicado no mesmo ano, com o título Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Os autores foram Fernando Henrique Cardoso, hoje o presidente do Brasil, e Enzo Faletto, um argentino. O livro, em grave contraste com as políticas centristas, democrático-capitalistas do Presidente Cardoso desde 1993, conclui: “Não é realista imaginar que o desenvolvimento capitalista resolverá os problemas básicos da maioria da população. No final, o que precisa ser discutido como uma alternativa não é a consolidação do Estado e a satisfação do ‘capitalismo autônomo’ mas como sobrepô-los. A pergunta importante, então, é como construir caminhos em direção ao socialismo.”
Nem “colonialismo” nem “dependência” têm muita credibilidade hoje. Para muitos, inclusive alguns africanos, o estatuto de limitações do colonialismo como uma explicação para o subdesenvolvimento expirou há muito tempo. Mais, quatro antigas colônias, duas inglesas (Hong Kong e Singapura) e duas japonesas (Coréia do Sul e Taiwan) ingressaram no Primeiro Mundo. Pouco se ouve “dependência” mencionada hoje, nem mesmo em universidades americanas, onde há não muitos anos atrás era senso comum que não suscitava discordâncias. Contribuíram para a deposição da teoria da dependência, entre outros fatores: o colapso do comunismo na Europa Oriental; a transformação do comunismo na China, em um autoritarismo de mercado cada vez mais livre e convencional; o colapso da economia cubana depois que a Rússia cessou o massivo auxílio soviético; o sucesso dos Tigres Asiáticos no mercado mundial; a derrota decisiva dos sandinistas nas eleições de 1990, na Nicarágua; e a estridente iniciativa mexicana anti-ianque, desde então, de se unir ao Canadá e aos Estados Unidos no NAFTA.
E então um vácuo explicativo emergiu na última década do século.