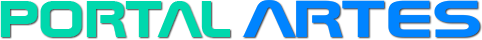O crítico de arte não é como um juiz, que emite seu veredicto baseado nos artigos da lei. Do juiz espera-se impessoalidade a fim de que seus sentimentos e pré-juízos não interfiram na apreciação da coisa a ser julgada. Já, do crítico, não. Como pedir impessoalidade a alguém que julga a partir da emoção que a obra lhe transmite? Certamente, a emoção artística implica, da parte do crítico, uma visão teórica, uma compreensão do que seja ou não seja uma obra de arte, mas jamais partirá ele de normas e princípios em que deverá enquadrar a obra que tem diante dos olhos. Há, sem dúvida, críticos, cuja visão será mais ou menos abrangente, mais ou menos flexível, mas nunca poderá ele demonstrar, como um juiz no tribunal, que o autor desta ou daquela obra está indiscutivelmente errado ou certo. Seu juízo é sempre parcial e, por isso mesmo, discutível. Isto vale tanto para o crítico que, por exemplo, questiona o valor artístico de determinada tendência de vanguarda como para aquele que a defende, já que nem um nem outro tem condições de demonstrar de modo indiscutível o acerto de sua opinião.
O crítico de arte não é como um juiz, que emite seu veredicto baseado nos artigos da lei. Do juiz espera-se impessoalidade a fim de que seus sentimentos e pré-juízos não interfiram na apreciação da coisa a ser julgada. Já, do crítico, não. Como pedir impessoalidade a alguém que julga a partir da emoção que a obra lhe transmite? Certamente, a emoção artística implica, da parte do crítico, uma visão teórica, uma compreensão do que seja ou não seja uma obra de arte, mas jamais partirá ele de normas e princípios em que deverá enquadrar a obra que tem diante dos olhos. Há, sem dúvida, críticos, cuja visão será mais ou menos abrangente, mais ou menos flexível, mas nunca poderá ele demonstrar, como um juiz no tribunal, que o autor desta ou daquela obra está indiscutivelmente errado ou certo. Seu juízo é sempre parcial e, por isso mesmo, discutível. Isto vale tanto para o crítico que, por exemplo, questiona o valor artístico de determinada tendência de vanguarda como para aquele que a defende, já que nem um nem outro tem condições de demonstrar de modo indiscutível o acerto de sua opinião.
A tendência atual, conhecida como arte conceitual ou “arte contemporânea”, cujas primeiras manifestações surgiram na segunda década do século 20 com as manifestações dadaístas e, mais particularmente, com os read-mades de Marcel Duchamp, constitui a mais radical ruptura com os conceitos artísticos, a ponto de ter sido designada por seu inventor como “antiarte”. De fato, as manifestações que dispensam os suportes tradicionais da expressão artística e, com eles, as próprias linguagens da arte, dificilmente podem ser tidas como obras de arte. Isso não significa que não expressem nada, que não tenham qualquer significação. A questão é saber se tal modo de expressão pode ser considerado arte.
Não resta dúvida de que, para os defensores dessa tendência, tal questão já não tem cabimento: para o antiartista, o que até aqui se chamou de arte não importa; o que vale é a expressão pura e simples – e tudo é expressão. Isso que, de meu ponto de vista, tiraria qualquer sentido a tal escolha (se toda e qualquer expressão é arte, nada é arte), constitui a base teórica da antiarte. Por isso mesmo entendo que essa negação da arte pela afirmação da antiestética expressará, talvez, a rejeição de uma concepção da existência como invenção de um universo significativo fundado no imaginário e na fantasia. Não por acaso, a maioria das expressões anti-arte apoia-se na banalidade do cotidiano e a ela remete ou a elementos materiais destituídos de transcendência.
Tomemos como exemplo a arte de Márcia X, de que vi recentemente uma retrospectiva aqui no Rio. Uma de suas “obras” consistiu em mergulhar numa banheira cheia de coca-cola; uma outra era ela manipulando, em condutos de vidro transparente, tinta líquida azul. Tanto num caso como noutro, está evidente o caráter gratuito da atitude. Que significação pode ter mergulhar numa bacia cheia de refrigerante diante de meia dúzia de espectadores? Trata-se, sem dúvida, de uma ação inusitada, mas que nenhuma conseqüência teve (ou terá), seja na vida cultural ou na vida social. O mesmo pode dizer-se da manipulação de tinta líquida. Acaba a exibição, acabou-se tudo. Disso sobrarão, como sobraram, fotografias, um modo de registrar um fato que em si não tem qualquer importância. Alegar que os espetáculos de teatro e dança também são efêmeros, seria desconhecer a natureza estética daquelas duas formas de expressão. Quando se trata das artes plásticas ou da literatura, nenhuma importância tem se o pintor ou o escritor trabalhou em pé ou sentado, se estava nu ou vestido ao pintar ou escrever: o que importa é a obra que resulta de seu trabalho. Já na antiarte, que nega o objeto artístico, o que importa é a performance. É verdade que há antiartistas que produzem objetos, mas não objetos estéticos, resultantes do domínio técnico da linguagem artística; são, quase sempre, objetos não-estéticos, às vezes na linha dos read-mades.
Cabe então indagar o que leva uma pessoa, com vocação artística, a consumir sua vida em atos gratuitos, inteiramente desvinculados uns dos outros, efêmeros por natureza e sem qualquer peso cultural. Essa mesma artista empregou grande parte de seu tempo a criar cenas eróticas com bonecos e a fazer do falo um tema constante. Numa época em que a repressão sexual já perdera força e importância, voltar-se tão insistentemente para tal temática indica pobreza de imaginação e superficialidade no trato dos assuntos.
Ao dizer isso, não emito um juízo estético. Apenas constato o que é óbvio, situando-me no mesmo plano não-artístico em que a autora de tais obras se colocou. Certamente, não se podem levantar questões estéticas em face de expressões que, por opção, as excluem. Se diante de uma obra de Morandi ou de um Pevsner, não teria cabimento adotar uma análise psicanalista ou sociológica em lugar da apreciação estética, no caso da antiarte, isto é perfeitamente cabível. Resumindo, diria que tais manifestações são expressão de um impasse em que se encontram muitos daqueles que, negando a obra de arte, não sabem o que pôr em seu lugar.